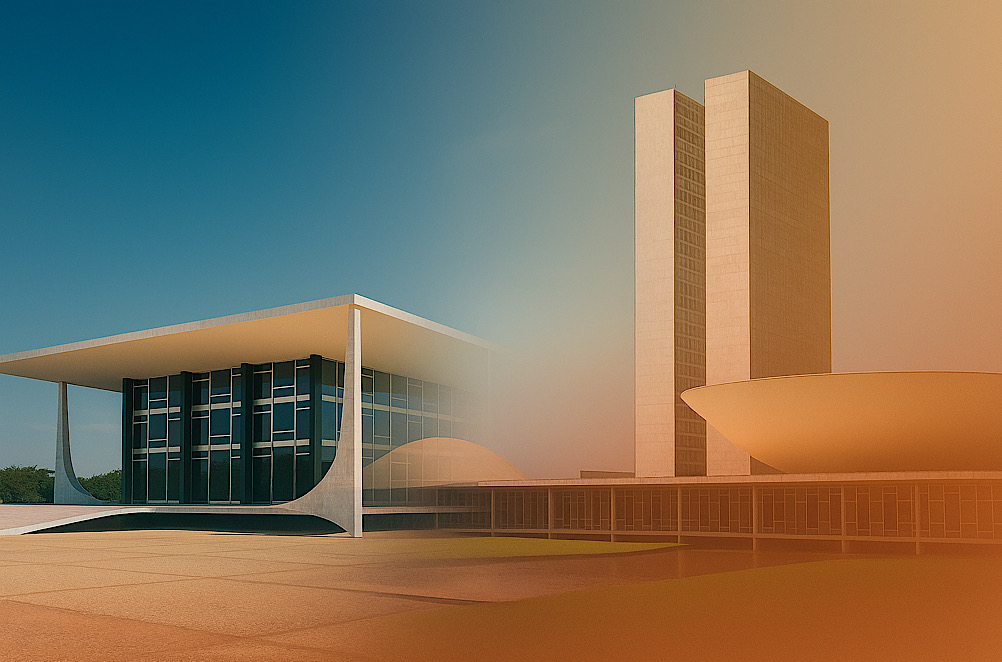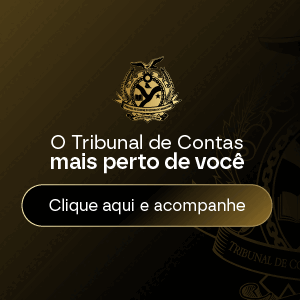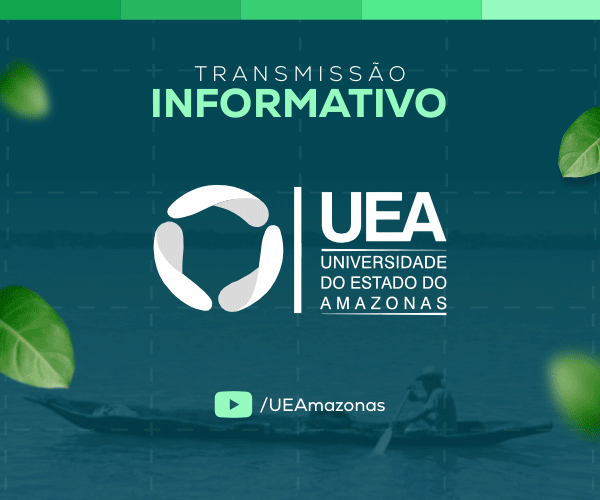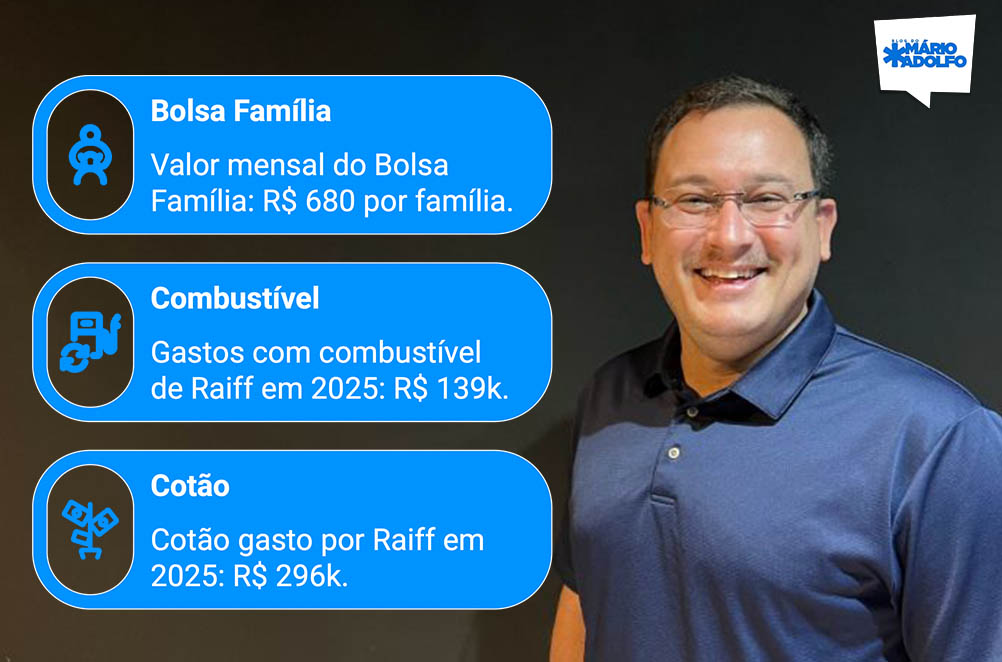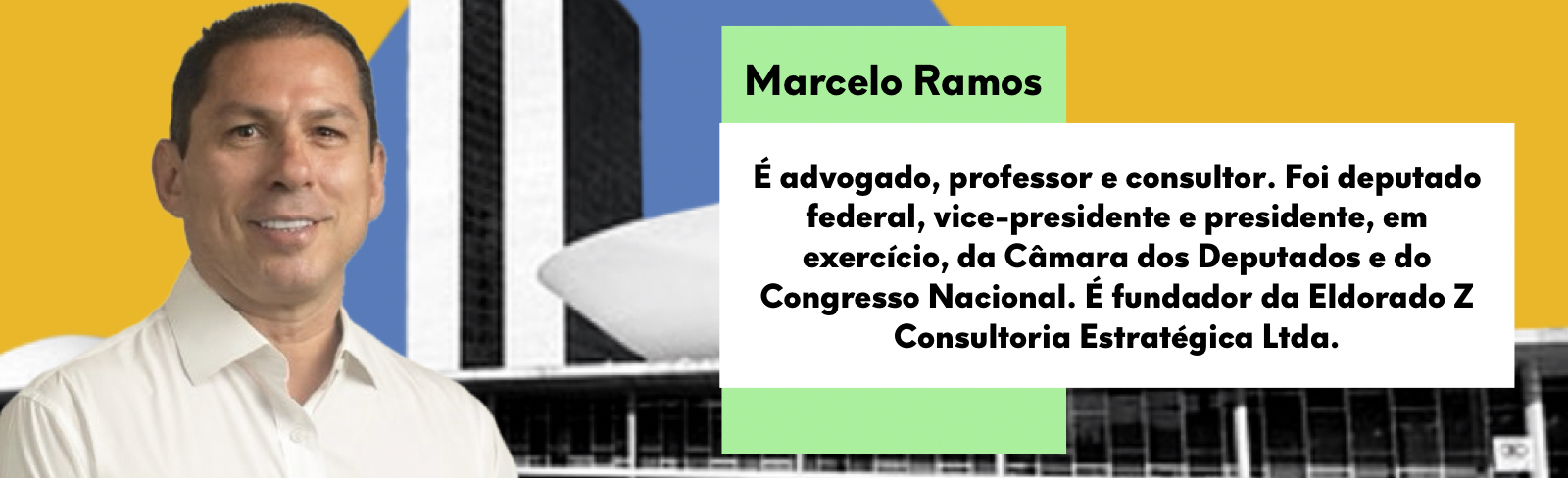
“O ultraconservador Antonin Scalia, indicado por Reagan, foi aprovado em 1986 por uma votação de 98 a 0, embora os democratas tivessem mais do que o número necessário votos (47) para obstruí-lo.”
É com esse episódio da política americana que Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, no livro Como as Democracias Morrem, ilustram a ideia do que os americanos chamam de reserva institucional.
Reserva institucional é aquilo que um Poder pode fazer mas não faz em reconhecimento a legitimidade de um ato exarado por outro Poder. É uma ideia não escrita que está na essência do sistema de “checks and balances” (freios e contrapesos) e sem a qual esse sistema é substituído por outro de impasses e disfunções. É a autocontenção. O comedimento no exercício do poder.
O contrário da reserva institucional é aquilo que os americanos chamam de “jogo duro constitucional” e que fez com que a Suprema Corte mudasse de tamanho 7 vezes de 1800 a 1869, todas as mudanças por motivações políticas e feitas como forma de questionar e afrontar o partido adversário. É tirar as grades de proteção da democracia. É atacar o espírito da Constituição, usando a própria Constituição.
O episódio da indicação e votação do próximo ministro do STF não é uma mera pendenga política entre o Presidente da República e o presidente do Senado, é um momento de disputa entre os conceitos de reserva institucional e jogo duro constitucional e que vai dizer muito sobre os alicerces da Democracia e da relação de independência e harmonia dos Poderes, daqui por diante.
Importante lembrar que, em toda história do STF, apenas 5 indicações foram rejeitadas pelo Senado, enquanto 168 foram aprovadas, sendo que, após a Constituição de 1988, as 29 indicações foram aprovadas.
Para se ter uma ideia do que está em jogo, a última indicação de um ministro do STF rejeitada foi em 1894, há 131 anos, no conturbado governo de Floriano Peixoto, quando a República ainda se consolidava e o país ainda se adaptava à Constituição republicana de 1891.
2 / 2
De registrar ainda que as rejeitadas foram todas de um mesmo presidente e rejeitadas em um período de apenas 3 meses. Os rejeitados foram: o médico Cândido Barata Ribeiro, o general Innocêncio Galvão de Queiroz, o general Ewerton Quadros, o diretor-geral dos Correios Demosthenes da Silveira Lobo e o subprocurador Antônio Caetano Seve Navarro, este último, o único com atuação jurídica.
O Senado pode rejeitar um nome indicado mas rejeitar um nome com notório saber jurídico e reputação ilibada seria romper as grades de proteção da Democracia e criar um precedente perigosíssimo para o rompimento das regras não escritas de reserva institucional.
Por outro lado, é certo que legalmente o Presidente da República não é obrigado a comunicar previamente o nome do seu escolhido ao presidente do Senado, mas esse gesto de gentileza e reconhecimento de legitimidade também está protegido pela reserva institucional, o que dá certa razão ao incomodo gerado com indicação.
O fato é que, diante do impasse estabelecido, devem Lula e Alcolumbre seguir a lição de George Washington que sobre o exercício do poder disse que “ganhou poder em função de sua prontidão a abrir mão dele”.
Lula permite que o aliado participe mais do seu governo com indicações, “abrindo mão” de parcela do seu poder e Alcolumbre conduz a aprovação do ministro Jorge Messias para o STF, “abrindo mão” do poder de rejeitar a indicação.
Assim, evitamos um grave precedente e mantemos as “grades de proteção” da Democracia.